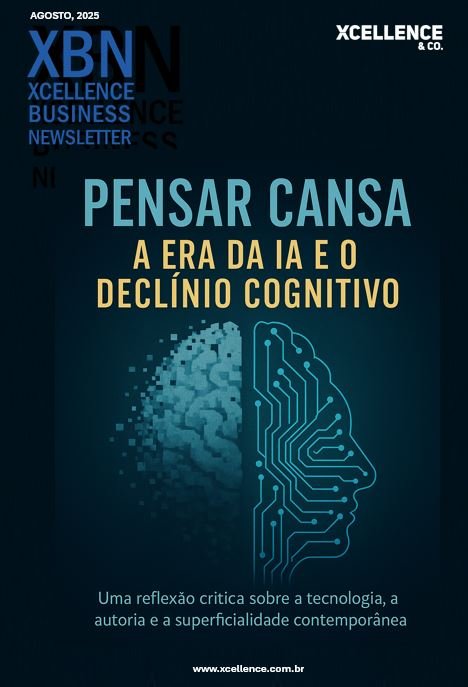Pensar Cansa: A Era da IA e o Declínio do Pensamento Cognitivo
Por Carlos Magalhães
Vivemos um tempo paradoxal em que a tecnologia avança a passos largos enquanto a capacidade humana de refletir, criar e questionar parece recuar a cada notificação. A Inteligência Artificial — tema central de fascínio, medo e especulação — tem sido colocada no centro do debate sobre o futuro do trabalho, da educação, da criatividade e da nossa própria humanidade. Mas será ela a verdadeira vilã? Ou apenas um espelho incômodo de fragilidades que já estavam entre nós, apenas disfarçadas?
Este ensaio propõe uma reflexão sobre o fenômeno do “emburrecimento moderno” — ou, se preferirmos um termo mais técnico, o empobrecimento cognitivo — em suas múltiplas expressões: o declínio da autonomia intelectual, o colapso da formação crítica no mercado de trabalho, a banalização da propriedade intelectual, o consumo passivo e fragmentado de conteúdo, e a ascensão do “papagaio de pirata digital”, símbolo da superficialidade informativa contemporânea.
Ao longo de cinco seções, discutimos não apenas os impactos da Inteligência Artificial, mas os sintomas de uma sociedade que terceirizou o pensar, a criatividade e a autoria. Com base em autores como Zuboff, Sennett, Han, Bauman, Chomsky e Morozov, articulamos teoria e prática, provocação e crítica, sempre mantendo viva a pergunta: estaremos realmente evoluindo — ou apenas delegando à máquina aquilo que um dia nos definiu como humanos?
1. Sobre o Emburrecimento, ou menos chocante: empobrecimento cognitivo da humanidade
Finalmente, encontramos um culpado para justificar a perda de empregos, do declínio da capacidade cognitiva e da inovação humana: a Inteligência Artificial. Mas, será ela a verdadeira culpada?
O processo de emburrecimento coletivo — entenda-se aqui como a preguiça de pensar — não começou com a IA. Ele é presente na história da evolução do homem moderno. Durante a Idade Média, por exemplo, pensar diferente era tão perigoso que podia levar alguém à fogueira, como no caso de Giordano Bruno, que foi executado por defender ideias contrárias à doutrina eclesiástica. Galileu Galilei, por sua vez, foi forçado a negar suas descobertas científicas para não sofrer destino semelhante.
Na era moderna, os ataques ao pensamento crítico continuaram. Durante o regime nazista, por exemplo, livros de autores considerados “subversivos” foram queimados publicamente. Essa simbologia da queima do pensamento ainda ecoa atualmente, não mais pelas chamas, mas pela omissão. Hoje, o cerceamento ao pensamento ocorre de forma mais sutil: somos bombardeados por notificações, vídeos curtos, manchetes alarmistas e conteúdo que disputam nossa atenção a cada segundo. Essa avalanche de estímulos nos impede de parar, refletir e aprofundar ideias. Ao invés de leituras longas e debates, preferimos respostas prontas e imediatas. Vivemos distraídos, pulando de um assunto para outro, sem conexão ou profundidade. Além disso, as redes sociais criaram ambientes onde só ouvimos quem pensa como nós, reforçando nossas convicções e fechando espaço para o diálogo verdadeiro. Tudo isso cria uma espécie de anestesia mental, em que pensar com profundidade se torna um esforço que poucos estão dispostos a fazer.
Antes, o pensamento era inibido pelo poder e pelo messianismo. Agora, é pela própria preguiça individual alimentada pelo excesso de informação rápida e superficial. Vivemos em uma era de inflação informacional, ou seja, um fenômeno em que o volume excessivo de informações disponíveis supera a capacidade humana de processá-las criticamente, gerando dispersão, superficialidade e falsa sensação de conhecimento, vivemos num mundo onde a facilidade de acesso aos dados tem gerado mais dispersão do que compreensão, mais opinião do que análise. Em vez de estimular a curiosidade, a abundância de conteúdo promove uma ilusão de saber.
Portanto, o emburrecimento coletivo não é invenção digital. Ele apenas trocou de figurino. Sai a censura explícita, entra a alienação voluntária. A IA? Apenas mais uma engrenagem da Revolução Industrial, marcada pela digitalização acelerada e pela presença crescente de algoritmos em nossas rotinas. O fenômeno se agrava ainda mais pela cultura do "papagaio de pirata1", que reforça a necessidade de aparecer e reproduzir ideias alheias em busca de reconhecimento, mesmo sem compreensão ou vivência.
2. Sobre o Mercado de Trabalho
Sim, profissões estão desaparecendo. Sim, outras estão surgindo. Isso sempre ocorreu em cada revolução industrial. Na primeira, artesãos foram substituídos por operadores de máquinas. Na segunda, acendedores de lampiões deram lugar aos eletricistas. Na terceira, digitadores foram substituídos por sistemas automatizados. Agora, na quarta revolução industrial, é a vez dos operadores de dados e rotinas repetitivas serem substituídos por inteligências artificiais.
Entretanto, não é por causa da Inteligência Artificial que você — ou qualquer outro profissional — não consegue mais emprego. A IA pode ser um acelerador de mudanças, mas ela apenas escancara uma verdade já evidente: o nível educacional está em queda, o raciocínio lógico está enfraquecido e a capacidade de análise crítica está sendo substituída por execução automatizada de comandos, sem compreensão do todo e sem articulação com processos mais amplos de tomada de decisão e aprendizado contínuo.
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), organizado pela OCDE, mede o desempenho de jovens em leitura, matemática e ciência. O Brasil tem ocupado posições sistematicamente inferiores à média da OCDE em suas próprias avaliações, o que revela deficiências estruturais no sistema educacional. A cada edição, o distanciamento entre a educação brasileira e as demandas do mundo do trabalho torna-se mais evidente — mostra que nossos jovens estão saindo da escola sem dominar habilidades básicas para a vida e para o mercado de trabalho atual. Isto é uma estratégia de Estado? Estamos retornando à Idade Média?
Diante disso, a depreciação da mão de obra não é apenas um efeito colateral da tecnologia, mas um sintoma da nossa inércia diante das transformações. A sociedade que não valoriza o pensamento crítico, a formação continuada e a resolução de problemas complexos está condenada a ser espectadora do futuro, ou desaparecer.
3. Sobre a Propriedade Intelectual
A ascensão da Inteligência Artificial generativa trouxe à tona um debate urgente e sensível: a fronteira entre inovação tecnológica e violação da propriedade intelectual. Ferramentas como o GitHub Copilot, desenvolvidas a partir de grandes volumes de código público, foram acusadas de utilizar conteúdos protegidos por direitos autorais sem o devido consentimento dos autores originais. Da mesma forma, escritores como Sarah Silverman moveram processos contra empresas de IA por alimentarem seus modelos com obras protegidas, sem autorização prévia ou compensação.
Esses casos revelam uma prática recorrente: o uso de dados, textos, imagens e vozes humanas para treinar algoritmos que, posteriormente, geram conteúdo comercializável. Como aponta Shoshana Zuboff (2019), estamos vivendo uma era de "capitalismo de vigilância", onde dados e produções individuais são convertidos em matéria-prima para produtos que beneficiam grandes corporações. No fundo, trata-se de uma nova forma de apropriação de trabalho criativo que remete à lógica da expropriação industrial do século XIX, só que agora operada por código e infraestrutura digital.
No campo da crítica política, Noam Chomsky também alerta para o risco de entregarmos os instrumentos de conhecimento a lógicas de mercado, sem controle democrático. Evgeny Morozov, por sua vez, chama a atenção para o chamado "solucionismo tecnológico", onde todas as questões humanas parecem ter uma resposta algorítmica, apagando a importância da autoria, da ética e da memória social.
Além disso, observa-se um fenômeno ainda mais preocupante: teorias, trabalhos práticos e autores que fundamentaram muitas das soluções tecnológicas contemporâneas são, frequentemente, "esquecidos de propósito". Isso acontece para abrir espaço à narrativa de que estamos diante de novos gênios revolucionários, ignorando as contribuições anteriores. É a reinvenção do conhecimento sem atribuição, onde pesquisadores precursores são apagados da história em prol de uma imagem idealizada do inovador moderno — geralmente jovem, carismático e midiático que precisa do seu "like" para ser popular ou porque está sendo patrocinado pela sua visibilidade.
Assim, corre-se o risco de que o que hoje se celebra como “inovação” seja, na prática, apenas uma repetição empacotada como “disruptiva”, muitas vezes sem aplicabilidade real, impacto concreto ou valor proposto com resultado real. Trata-se, em muitos casos, de uma nova onda de colonialismo intelectual, em que ideias são apropriadas, embaladas e revendidas sem reconhecer suas origens. A IA escreve, alguém assina, outro compartilha — e o autor original? Torna-se invisível, é esquecido ou simplesmente descartado. Quando a tecnologia não é acompanhada de um olhar crítico e ético, ela deixa de ser uma ferramenta de apoio e se transforma num predador simbólico da autoria e da memória coletiva.
4. Sobre o Consumo Passivo de Conteúdo
Vivemos um tempo em que consumir conteúdo tornou-se quase automático: vídeos curtos, frases de efeito, podcasts motivacionais, posts com fórmulas prontas para o sucesso. Tudo parece profundo — mas, ao mesmo tempo, tudo se dissipa em segundos. Bauman (2001) já alertava para os efeitos da "modernidade líquida", onde relações, conhecimentos e compromissos são voláteis, frágeis, facilmente descartáveis. No mundo digital, isso se traduz em uma cultura do scroll infinito2, onde não há tempo para refletir ou questionar, apenas para absorver superficialmente.
Byung-Chul Han (2017) reforça essa visão ao afirmar que vivemos em uma sociedade do cansaço, onde a hiperexposição à informação e à auto exploração criam sujeitos saturados, distraídos e incapazes de sustentar processos profundos de aprendizado. Essa saturação leva ao esgotamento mental e emocional, gerando sintomas que se aproximam do que hoje reconhecemos como burnout — a síndrome do esgotamento profissional? A avalanche de dados, longe de informar, anestesia. A superficialidade contínua gera frustração intelectual — o indivíduo sente que está sempre ocupado, mas não produz nem aprende nada significativo. Isso também retroalimenta o esgotamento emocional. A avalanche de dados e notificações cria um estado de vigilância constante "do querer saber “ou do "estar atualizado". O cérebro não descansa. Isso pode desencadear fadiga cognitiva crônica, um dos pilares do burnout moderno. Este comportamento ecoa diretamente no burnout, uma síndrome reconhecida pela OMS, associada à exaustão emocional, distanciamento mental do trabalho e diminuição da eficácia profissional. Pode-se perguntar: seria essa uma das razões para a escalada dessa síndrome em tempos de home office, especialmente após a pandemia da COVID-19? - o profissional não produz em sua jornada de trabalho o que tem que produzir, estendendo-a por causas das distrações disponíveis - na internet - e consequente redução o tempo de descanso?
Richard Sennett (2001), por sua vez, observa que o trabalho e o conhecimento, antes construídos com base na experiência e na continuidade, tornaram-se fragmentados, esvaziando o valor do saber acumulado. A expertise é substituída por slogans, e a aprendizagem vira marketing pessoal.
Esse consumo passivo, portanto, não é neutro: ele molda o pensamento, restringe o questionamento e impede o aprofundamento. Formam-se cidadãos mais “palpiteiros” do que informados, mais reativos do que reflexivos. E, nesse ambiente, a Inteligência Artificial encontra terreno fértil para automatizar ainda mais o que já se tornou raso. O desafio é interromper o ciclo: consumir menos, refletir mais. Questionar antes de compartilhar. Pensar antes de concordar.
5. O “Papagaio de Pirata” e a Superficialidade Digital
A expressão "papagaio de pirata" é uma metáfora popular para descrever aqueles que buscam aparecer ao fundo de reportagens ou eventos importantes apenas para obter visibilidade, sem contribuir de fato com o conteúdo. No ambiente digital, esse comportamento se manifesta na reprodução acrítica de ideias alheias — muitas vezes geradas por Inteligência Artificial, livros completos, trechos de livros ou conteúdos de terceiros —, sem referência à fonte, sem contexto e, principalmente, sem vivência.
Byung-Chul Han (2017) critica a sociedade da transparência, onde a exposição se torna um fim em si mesma. Nesse cenário, a vaidade digital se sobrepõe à autenticidade. O conteúdo, em vez de nascer da experiência ou do estudo, é replicado com o único objetivo de performar bem nas redes. É a “estética da profundidade superficial” que Lipovetsky (2005) descreve: frases de impacto, posts bem diagramados, palavras de ordem — tudo calculado para gerar engajamento, mas vazio de substância.
A superficialidade digital, nesse contexto, se torna um dos vetores do empobrecimento cognitivo ou emburrecimento da humanidade, como iniciamos esta conversa. As redes incentivam o compartilhamento rápido, o aplauso instantâneo, a viralização de discursos prontos. Assim, a cadeia criativa se rompe: quem cria é invisibilizado, quem repete ganha os adeptos — ou curtidas. Mas onde está o resultado prático? Qual o produto materializado do saber com resultado e a experiência do esforço do valor obtido?
O risco maior é que, nesse teatro de vaidades, o conteúdo autêntico seja ofuscado por uma avalanche de cópias. E o pior: que o plágio seja celebrado como genialidade. A Inteligência Artificial, quando utilizada sem ética e sem critérios, se transforma em mais uma engrenagem desse ciclo. Afinal, ela apenas automatiza o comportamento humano — inclusive o da imitação sem autoria.
Conclusão
Diante do que foi exposto, é possível afirmar que a Inteligência Artificial, longe de ser a causa exclusiva de um possível empobrecimento cognitivo da humanidade, é apenas mais um espelho de nossas escolhas sociais, educacionais, culturais. e políticas. Ela amplia comportamentos já existentes — desde a reprodução acrítica de conteúdos até a negligência com o pensamento profundo e a autoria. O que está em jogo não é apenas a substituição de empregos ou a apropriação de ideias, mas a qualidade da nossa relação com o conhecimento, com o outro e com o tempo. Se não formos capazes de cultivar reflexão, ética e criticidade em meio à avalanche tecnológica, correremos o risco de sermos substituídos não por máquinas, mas por nossa própria preguiça de pensar. Se continuarmos a negligenciar o pensar humano, em um futuro não tão distante, talvez deixemos de celebrar mentes humanas com o Prêmio Nobel. Em vez disso, poderemos assistir à consagração de algoritmos autocriados, premiando a si mesmos por sua habilidade de calcular, prever e criar — mesmo sem jamais terem experimentado a dúvida, a curiosidade ou a emoção, dons que um dia foi a marca da genialidade humana.
Apêndice
1 A expressão "papagaio de pirata" é usada em países como Brasil e Portugal para se referir a uma pessoa que aparece intencionalmente em segundo plano de uma reportagem, entrevista ou evento com cobertura da mídia, com o único objetivo de ser vista. O termo remete à imagem de um papagaio empoleirado no ombro de um pirata, sempre visível, mas sem papel relevante. No contexto digital, a metáfora descreve indivíduos que buscam visibilidade em redes sociais replicando ideias, frases ou conteúdos de terceiros, sem originalidade ou crédito, apenas para obter engajamento. Trata-se de uma forma moderna de vaidade midiática, onde o aparecer se sobrepõe ao contribuir.
2 A expressão "cultura do scroll infinito" refere-se ao comportamento digital de rolar continuamente a tela de plataformas online, consumindo conteúdo sem pausas ou reflexões. Essa dinâmica, projetada para reter a atenção do usuário, promove consumo superficial, reduz foco e inibe a capacidade de análise crítica prolongada. É comum em redes sociais como TikTok, Instagram e LinkedIn, e está associada à fragmentação cognitiva e à economia da atenção.
Referências
Bauman, Z. (2001). Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar.
Chomsky, N. (2016). Quem manda no mundo? São Paulo: Planeta do Brasil.
Han, B.-C. (2017). Sociedade do cansaço (2ª ed.). Petrópolis: Vozes.
Lipovetsky, G. (2005). A sociedade da decepção. São Paulo: WMF Martins Fontes.
Morozov, E. (2012). To save everything, click here: The folly of technological solutionism. PublicAffairs.
OCDE (2023). Programme for International Student Assessment (PISA) Results. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/
Sennett, R. (2001). A corrosão do caráter: Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs. [Incluídas ao final conforme formato APA]